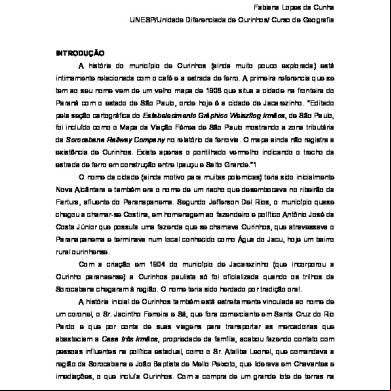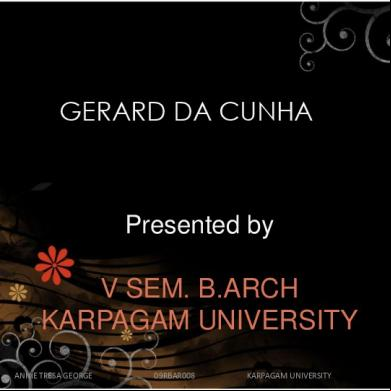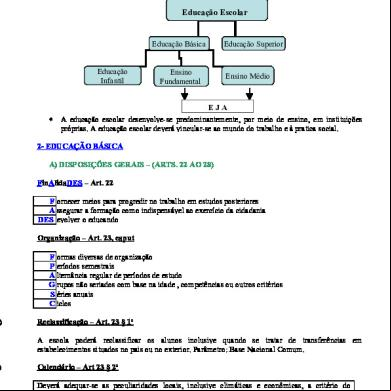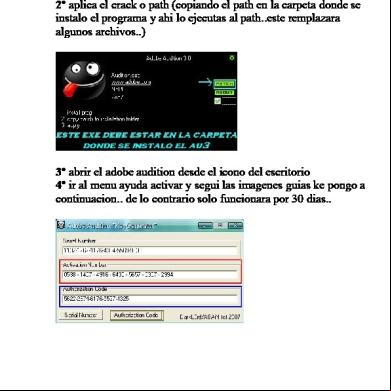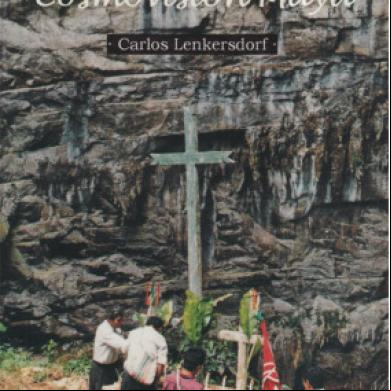Fabiana Lopes Da Cunha 76q6m
This document was ed by and they confirmed that they have the permission to share it. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this report form. Report 2z6p3t
Overview 5o1f4z
& View Fabiana Lopes Da Cunha as PDF for free.
More details 6z3438
- Words: 3,354
- Pages: 8
Trilhando Fronteiras: Uma análise sociocultural e urbanística de Ourinhos (1920-1950) Fabiana Lopes da Cunha UNESP/Unidade Diferenciada de Ourinhos/ Curso de Geografia
INTRODUÇÃO A história do município de Ourinhos (ainda muito pouco explorada) está intimamente relacionada com o café e a estrada de ferro. A primeira referencia que se tem ao seu nome vem de um velho mapa de 1908 que situa a cidade na fronteira do Paraná com o estado de São Paulo, onde hoje é a cidade de Jacarezinho. “Editado pela seção cartográfica do Estabelecimento Gráphico Weiszflog Irmãos, de São Paulo, foi incluído como o Mapa da Viação Férrea de São Paulo mostrando a zona tributária da Sorocabana Railway Company no relatório da ferrovia. O mapa ainda não registra a existência de Ourinhos. Existe apenas o pontilhado vermelho indicando o trecho da estrada de ferro em construção entre Ipauçu e Salto Grande.”1 O nome da cidade (ainda motivo para muitas polemicas) teria sido inicialmente Nova Alcântara e também era o nome de um riacho que desembocava no ribeirão da Fartura, afluente do Paranapanema. Segundo Jefferson Del Rios, o município quase chegou a chamar-se Costina, em homenagem ao fazendeiro e político Antônio José da Costa Júnior que possuía uma fazenda que se chamava Ourinhos, que atravessava o Paranapanema e terminava num local conhecido como Água do Jacu, hoje um bairro rural ourinhense. Com a criação em 1904 do município de Jacarezinho (que incorporou a Ourinho paranaense) a Ourinhos paulista só foi oficializada quando os trilhos da Sorocabana chegaram à região. O nome teria sido herdado por tradição oral. A história inicial de Ourinhos também está estreitamente vinculada ao nome de um coronel, o Sr. Jacintho Ferreira e Sá, que fora comerciante em Santa Cruz do Rio Pardo e que por conta de suas viagens para transportar as mercadorias que abasteciam a Casa três Irmãos, propriedade da família, acabou fazendo contato com pessoas influentes na política estadual, como o Sr. Ataliba Leonel, que comandava a região da Sorocabana e João Baptista de Mello Peixoto, que liderava em Chavantes e imediações, o que incluía Ourinhos. Com a compra de um grande lote de terras na
1
RIOS, Jefferson Del. Ourinhos: Memórias de Uma Cidade Paulista. Prefeitura Municipal de Ourinhos,
1991. P. 15
Texto integrante dos Anais do XVII Encontro Regional de História – O lugar da História. ANPUH/SPUNICAMP. Campinas, 6 a 10 de setembro de 2004. Cd-rom.
2 região, Jacinto Sá, através de suas ligações políticas “conseguiu que a Sorocabana criasse uma estação dentro de suas terras”. 2 Assim que adquiriu as terras, em 1908, começou a loteá-las, dando já à cidade um pouco da feição urbanística atual (com avenidas e ruas largas de traçado retilíneo). Ourinhos nasce com perspectivas promissoras, pois além das terras da região serem muito propícias ao cultivo do café, a cidade ou a ter ligação com a capital do estado por meio da ferrovia. Sua posição geográfica (ao fazer fronteira com o norte do Paraná) também atraiu inúmeras famílias de imigrantes que vieram para a região buscando uma vida melhor ou aquelas que inicialmente planejavam chegar até o Paraná, e por algum motivo acabaram se fixando na cidade. O município que em 1917 (ano de sua autonomia em relação a Salto Grande) possuía uma população em torno de 10.000 habitantes, hoje conta quase 100.000. É ainda uma região importante para a agricultura do estado, só que ao invés do café é a cana-de-açúcar que traz hoje à região importantes dividendos. Ainda se ouve o apito do trem tocar incessantemente, fazendo importante ligação entre as fronteiras do norte do Paraná e São Paulo. Apesar de sua relevância na região do Vale do Paranapanema, sua história ainda está por ser escrita. Fizemos um amplo levantamento do material que trata do assunto e o resultado não foi muito animador. Na verdade, apenas um livro foi produzido com o intuito de relatar a história da cidade. Jefferson Del Rios fez um bom trabalho, levantou fontes e documentos, teses e jornais além de redigir alguns depoimentos orais. No entanto, há muito ainda a contar e a analisar e nosso intuito aqui é principalmente dar ênfase ao aspecto sociocultural e urbanístico da história da cidade, buscando nos jornais, arquivos da Rádio Clube de Ourinhos e do museu da cidade e através de depoimentos orais, o resgate histórico dos bailes, das bandas, dos músicos, dos espaços de lazer públicos e privados, dos bares, do rádio, do cinema e dos costumes. Enfim, pretendemos narrar e analisar o cotidiano desta cidade durante as décadas de 20 a 50 do século XX e sua conexão com a história nacional, ou melhor, transnacional, já que a presença de imigrantes foi de fundamental importância para o desenvolvimento econômico e cultural do município e da região. PROCEDIMENTOS TEÓRICOS E METODOLÓGICOS Nosso trabalho visa trabalhar no âmbito da história regional e da cidade. A história urbana ou por uma renovação no início do século XX até a década de quarenta, proveniente essencialmente de especialidades não históricas: “a 2
Ibid., op., cit., p. 19
Texto integrante dos Anais do XVII Encontro Regional de História – O lugar da História. ANPUH/SPUNICAMP. Campinas, 6 a 10 de setembro de 2004. Cd-rom.
3 sociologia, em primeiro lugar, depois a geografia e o urbanismo. Sociólogos e juristas deram à história das cidades modelos que nunca foram esquecidos. Com M. Halbwachs estudam a relação entre a expansão urbana e o preço dos terrenos a partir de 1907; com M. Leroy, põe em valor o sistema das leis urbanas a partir de 1927. Mais ainda: a escola geográfica de Vidal de La Blache, com Lbanchazrd, Arbos e Demangeon, criaram um método monográfico e genético para o estudo do espaço citadino. Tendo continuado até os nossos dias, as interrogações dos geógrafos legamnos um sistema de análise, um jogo de conceitos (a rede, a função) de que a história urbana se beneficiou largamente. Também aos urbanistas, a Lavedan, a Geddes, a Giedion, deve ela a preocupação com uma história das formas relacionadas com as alterações globais da sociedade. O complexo constituído pela cidade organiza-se conforme os imperativos dos níveis técnicos, o impacto das séries temporais diferentes, o jogo dos elementos sociais, econômicos e culturais, que estruturam tanto o continente como o conteúdo. E, sobretudo, o espaço urbano deixa de ser considerado por referencia a um modelo ideal – muitas vezes lamentado e, portanto, objeto de juízos de valor – mas a a sê-lo de acordo com critérios específicos de coerência, com redes de costumes, com relações estabelecidas entre os diferentes níveis de totalidade urbana. O contributo verdadeiramente original dos historiadores desta época foi o de terem valorizado o papel das estruturas econômicas e sociais. É este o sentido da história urbana, de Henri Pirenne a Gaston Martin, de Georges Lefebvre a Henri Sée “. 3 Atualmente, a cidade moderna “torna-se o campo fechado das contradições entre um espaço globalmente uniformizado e as fragmentações resultantes das relações de produção. A cidade expande-se e os planificadores de todas as ideologias correm atrás dela”.4 O historiador pode propor através da análise deste espaço (a cidade) uma visão sociocultural, apresentando-a como um complexo social, e ponto importante de encontro entre os indivíduos e a comunidade, o local onde se desenvolvem interações entre condições materiais e fatores culturais, entre normas e comportamentos. A cidade contém vários modelos sob o ponto de vista demográfico5(que variam em geral, conforme as classes sociais), sobre as dependências culturais e religiosas, sobre o papel das migrações, a constituição e sociabilidade das famílias. 3
LE GOFF, Jacques(org.) A Nova História. Livraria Almedina, Coimbra, Portugal, 1978pp. 90-1
4
Ibid., op., cit.l, p. 91
5
“O método dos demógrafos urbanos põe em evidencia a influencia do meio, testada de perto pelo estudo
das migrações, pela reconstituição das famílias, pela análise da sociabilidade e dos meios familiares.”( Ibid., op., cit., p. 92)
Texto integrante dos Anais do XVII Encontro Regional de História – O lugar da História. ANPUH/SPUNICAMP. Campinas, 6 a 10 de setembro de 2004. Cd-rom.
4 Dentre algumas vertentes da história urbana, optamos por aquela que vê na urbanização um fenômeno social: “as percepções diferenciais da cidade, estudadas através das alianças e dos conflitos, tanto nas explosões limitadas dos motins como nos gestos plurisseculares descritos pelos itinerários tradicionais da procissão e da festa. Neste caso, há que interrogar as maneiras de encarar o espaço, os outros e a si próprio. Há que valorizar os fenômenos de solidariedade, de fidelidade e de luta entre os grupos e as classes. A análise pode reter as categorias sociais, as relações entre os grupos ou os fenômenos de circulação no interior de uma mesma classe. Pode insistir mais na intervenção quanto à elaboração dos espaços (...) pode reter as manifestações da cultura material, analisada segundo uma melhor compreensão das transformações a longo termo dos comportamentos e das atitudes mentais. Tem que ter em conta todas as manifestações espaciais dos gestos de solidariedade ou de oposição e, conseqüentemente, reencontrar percursos. O objetivo prioritário é o de fazer o inventário diferenciado dos modelos culturais, desde representações mentais até aos atos da prática”. 6 No âmbito da História Regional, é importante ressaltar que a criação do município de Ourinhos, sua emancipação de fato, foi confirmada em 21 de março de 1919, contemporâneo ao movimento que deu origem à Semana de Arte Moderna, “época que começam a surgir os estereótipos sobre os habitantes das várias regiões do País; assim, o carioca a a ser caracterizado pelo seu jeito boêmio e malandro, em contraposição ao paulista, que é disciplinado e trabalhador, e ao mineiro, moderado e austero. Por trás dessas construções estava a tentativa de se determinar qual região iria comandar a nação”. 7 Não é por acaso, que Ourinhos ficou conhecida como uma cidade de imigrantes e aventureiros, pois a imagem que se “vendia” da região ainda na década de dez era a de que seria o futuro da cafeicultura. Acreditando nisso, Barbosa Ferraz, proprietário nos arredores de Ribeirão Preto comprou “uma enorme gleba de terras entre Ourinhos e Cambará e plantou, de saída, um cafezal de um milhão de pés. Para garantir o escoamento da produção através da Sorocabana, (...) Barbosa, os filhos e outros fazendeiros da região (...) associaram-se para a construção da estrada de ferro ligando suas terras a Ourinhos. Fundaram, assim, a Estrada de Ferro Noroeste do Paraná, nome mais tarde alterado para Companhia Ferroviária São Paulo-Paraná, dando início, em 1923, à construção do trecho entre Cambará e Ourinhos (...)”. 8 Com 6
Ibid., op., cit., p. 93
7
PINTO, Maria Inez Machado Borges. “Urbes industrializada: o modernismo e a paulicéia como ícone da
brasilidade”. IN: Revista Brasileira de História, vol. 21, no. 42, dezembro de 2001. Pp. 436-437 8
RIOS, Jefferson Del. Op., cit., p. 53
Texto integrante dos Anais do XVII Encontro Regional de História – O lugar da História. ANPUH/SPUNICAMP. Campinas, 6 a 10 de setembro de 2004. Cd-rom.
5 um discurso extremamente otimista sobre o futuro da região, a diretoria da estrada de ferro publica em 1924 no jornal O Estado de S. Paulo um longo anúncio que conseguiria convencer os ingleses a investirem seu capital na região, fundando no mesmo ano a Brazil Plantations Syndicate Ltda. e no ano seguinte, organizando uma subsidiária brasileira do empreendimento com o nome de Companhia de Terras do Norte do Paraná. “O entusiasmo pelo empreendimento estava nas solenidades e nos jornais. Cada trecho novo da ferrovia era festejado com a celebração de missas, discursos e banquetes”.9 O sucesso de tal projeto acabou originando a cidade de Londrina (uma homenagem a Londres) e a outras cidades nas proximidades. Até os príncipes ingleses se tornaram acionistas da Brazil Plantation - fundada por um pequeno grupo de nobres, financistas e generais ingleses-e acabaram visitando a região em 1931. O discurso otimista da imprensa local, entretanto, não se coaduna com alguns relatos de antigos moradores da cidade, como o da Sra. Maria Aurora Gomes de Leão que descreve que na cidade nos anos 20 “só havia taperas de tábua (...) podia-se contar nos dedos das mãos as casas de tijolos (...)”10, ou o do Sr. Leônidas de Oliveira ( através do depoimento de sua sogra: Dona Hemínia Sandano), que conta o sofrimento pela falta de água, e da vinda de desordeiros , vagabundos e criminosos mandados pela Sorocabana em seus trens que vinham repletos de desocupados “catados em São Paulo pela política[sic], a fim de selecionar entre eles alguém que se prestasse para o serviço de linha.”11 Mas, apesar de todas as dificuldades, famílias de diversas origens vieram para a região com o sonho de se tornarem proprietários de boas terras para plantio, ou de se transformarem em empresários do comércio local. É o caso dos Gurtovenko e dos Chuminski, provenientes da região da Bessarábia; do fotógrafo alemão Frederico Hahn; dos sérvios Mladen e Janosi; dos japoneses Misato; dos espanhóis Matachana; dos italianos Nicolosi; para citar alguns exemplos. A memória deste ado é narrada nos jornais do período como A Cidade de Ourinhos, que circulou pela primeira vez em 1926 e A Voz do Povo que surge no ano seguinte. É retratada nas inúmeras fotos guardadas pelas famílias mais antigas que relatam aqueles tempos com certa dose de saudosismo. Os nomes e os fatos históricos mais relevantes foram “eternizados” nos nomes de ruas, praças e avenidas. “Nos espaços brutalmente iluminados por uma razão estranha, os nomes próprios cavam reservas de significações escondidas e familiares. Eles ‘fazem sentido’: noutras palavras, impulsionam movimentos, à maneira de 9
Ibid., op., cit., p. 57
10
Ibid., op., cit., p. 129
11
Ibid., op., cit., p. 135
Texto integrante dos Anais do XVII Encontro Regional de História – O lugar da História. ANPUH/SPUNICAMP. Campinas, 6 a 10 de setembro de 2004. Cd-rom.
6 vocações e chamados que dirigem ou alteram o itinerário dando-lhe sentidos (ou direções) até então imprevisíveis. Esses nomes criam um não-lugar nos lugares: mudam-nos em agens”.12 Os relatos que compõem esta história que narra os lugares vividos são como “presenças de ausências. O que se mostra designa aquilo que não é mais: ‘aqui vocês vêem, aqui havia...’, mas isto não se vê mais. Os demonstrativos dizem do visível suas invisíveis identidades: constitui a própria definição do lugar, com efeito, ser esta série de deslocamentos e de efeitos entre os estratos partilhados que o compõem e jogar com essas espessuras em movimento (...) Os lugares são histórias fragmentárias e isoladas em si, dos ados roubados à legibilidade por outro, tempos empilhados que podem se desdobrar, mas que estão ali antes como histórias à espera e permanecem no estado de quebra-cabeças, enigmas, enfim simbolizações enquistadas na dor ou no prazer do corpo”.13 É essa história que queremos recompor e recontar. Histórias múltiplas e fragmentárias, que nos remetem a um espaço e tempo distantes de nós, mas que tem como conexão um ponto de chegada, ou de partida: a comunidade que se consolidou com o nome de Ourinhos. BIBLIOGRAFIA REGIONAL BARNABE, Marcos Fagundes. A Organização Espacial do Território e o Projeto da Cidade : o Caso da Companhia de Terras do Norte do Paraná.Dissertação de Mestrado. USP/Arquitetura/São Carlos.01/04/1990. CLEPS Jr, João. O Pontal do Paranapanema Paulista: a Incorporação Regional da Periferia do Café. Dissertação de Mestrado. UNESP/Rio Claro/Geografia. 01/09/1990. POSSAS, Maria Lídia. Mulheres, Trens e Trilhos. Tese de Doutorado, FFLCH/USP RIOS, Jefferson Del. Ourinhos: Memórias de Uma Cidade paulista. Prefeitura Municipal de Ourinhos, 1991. BIBLIOGRAFIA GERAL ANDRADE, Mário de. Pequena História da Música. Belo Horizonte, Ed. Itatiaia, 1987. _________________. Dicionário musical brasileiro.S.P. EDUSP,1989 BAKHTIN, M.A Cultura Popular na Idade Média e no Renascimento o Contexto de François Rabelais.2ª ed., S.P. , Hucitec, 1993 BOSI, Ecléa. Memória e Sociedade: Lembrança de Velhos. Cia. Das Letras, S.P., 2003 BOURDIEU, Pierre. Economia das Trocas Simbólicas. S.P., Perspectiva, 1987.
12
CERTEAU, M. A Invenção do Cotidiano: Artes de Fazer. 2ª ed., R.J. : Vozes, 1994. p. 184
13
Ibid., op., cit., p. 189
Texto integrante dos Anais do XVII Encontro Regional de História – O lugar da História. ANPUH/SPUNICAMP. Campinas, 6 a 10 de setembro de 2004. Cd-rom.
7 BURKE,P. Cultura popular na Idade Moderna.2ª ed., S.P., Cia. Das Letras, 1995 CANCLINI, Nestor Garcia.Culturas Híbridas.3ª ed. S.P., EDUSP, 2000 CERTEAU,M.A invenção do cotidiano.2ª ed., R.J., Vozes, 1996 CHARTIER, Roger. “Cultura Popular: Retorno a um Conceito Historiográfico”. IN: Manuscrits.Gener, no. 12, 1994. CONTIER, a. a. Brasil Novo; Música, Nação e Modernidade: os anos 20 e 30. Dissertação de Livre-Docência , FFLCH, USP, 1988 DAVIS, Natalie Zemon. Culturas do Povo: Sociedade e Cultura no Início da França Moderna.R.J., Paz e Terra, 1990 ECO, Humberto. Apocalípticos e Integrados.S.P., Perspectiva, 1976 Enciclopédia da Música Brasileira: erudita, folclórica e popular. S.P., Art Editora, 1977 GEERTZ, Clifford. Interpretação das Culturas. R.J., Zahar, 1978. HELLER, Agnes. O Cotidiano e a História. 6ª ed., S.P.: Paz e Terra, 2000 HOBSBAWN & RANGER, Terence. A Invenção das Tradições.2ª ed., S.P., Paz e Terra, 1997 HUIZINGA, Johan. Homo Ludens.S.P., Perspectiva, 1999 HUNT, Lynn. A Nova História Cultural. S.P.: Martins Fontes, 2001 LEGOFF, Jacques (org). A Nova História. Coimbra, Portugal: Livraria Almedina, 1978 MORAES,José G.V. de.Sonoridades Paulistanas: A música Popular na Cidade de São Paulo( Final do século XIX-Início do século XX). FUNARTE/Ed. Bienal/R.J./S.P., 1997 _______________.Metrópole em Sinfonia: História, Cultura e Música Popular em São Paulo nos Anos 30. Dissertação de Doutorado, FFLCH,USP, 1997 NOSSO SÉCULO( BRASIL)Vls. 1 a 7( 1900-1960), S.P., Abril Cultural, 1985 NOVAES, Adauto(org.) “Modernismo e Brasilidade. Música, Utopia e Tradição.”. IN: Tempo e História.S.P., Cia. Das Letras e Sec. Municipal de Cultura, 1992. OLIVEIRA, Lúcia Lippi. “As Raízes da Ordem: os Intelectuais, a Cultura e o Estado”. IN: Seminário Internacional: a Revolução de 30. Brasília, UnB, 1983. ____________________. “As Festas que a República manda guardar”. Estudos Históricos.R.J., 2(4): 182-89, 1989. ORTIZ, Renato. A Moderna Tradição Brasileira: cultura brasileira e indústria cultural. S.P., Brasiliense, 1988 _________________. Cultura Brasileira e Identidade Nacional.S.P., Brasiliense, 1985 PINTO, Maria Inez Machado Borges. “Urbes industrializada: o modernismo e a paulicéia como ícone da brasilidade”. IN: Revista Brasileira de História, vol. 21, no. 42, dezembro de 2001. pp. 435-455 ______________________________. Cotidiano e Sobrevivência. S.P., EDUSP
Texto integrante dos Anais do XVII Encontro Regional de História – O lugar da História. ANPUH/SPUNICAMP. Campinas, 6 a 10 de setembro de 2004. Cd-rom.
8 ______________________________. Encantos e Dissonâncias da Modernidade: Urbanização, Cinema e Literatura em São Paulo ( 1920-1930). Tese de LivreDocência, FFLCH/USP, 2002 SAID,E.W.Cultura e Imperialismo.S.P., Cia. Das Letras, 1995 SALIBA, Elias T. " A Dimensão Cômica da Vida Privada na República" IN: História da Vida Privada no Brasil.V.3. SEVCENKO, N. (org.),S.P., Cia. das Letras, 1998 SEVCENKO, N. Literatura como missão: tensões sociais e criação cultural na Primeira República. 3a. ed., S.P., Ed. Brasiliense, 1989 _____________.Orfeu extático na metrópole: São Paulo, sociedade e cultura nos frementes anos 20. S.P., Cia. das Letras, 1992 _____________."O Prelúdio republicano, astúcias da ordem e ilusões do progresso". IN: História da Vida Privada no Brasil. V.3 SEVCENKO,N..(org.), S.P., Cia. das Letras, 1998 ____________." A Capital Irradiante: Técnica, Ritmos e Ritos do Rio". IN: História da Vida Privada no Brasil. V.3.SEVCENKO, N.(org.), S.P., Cia. das Letras, 1998 SIEGMEISTER, Elie. A Música e a Sociedade. Biblioteca Cosmos, no. 96, Lisboa, Ed. Cosmos, 1945. SQUEFF, E. & WISNIK, J.M. O nacional e o Popular na Cultura Brasileira((Música).2ª ed., S.P., Ed. Brasiliense, 1983 SCHWARZ, R.Que horas são? Ensaios , S.P., Cia. das Letras, 1987 SCHWARTZMAN, S.& BOMENY, H.M.B. & COSTA, V.M.R. Tempos de Capanema. R.J. Paz e Terra, 1984 TATIT, Luiz.O cancionista: composição de canções no Brasil.Tese de doutoramento, FFLCH, USP, 1989 THOMPSON, E.P. Costumes em Comum: Estudos sobre a Cultura Popular Tradicional. S.P., Ci. Das Letras, 1998 TINHORÃO, J.R.História social da Música Popular Brasileira. Lisboa, Editorial Caminho, 1990 _______________. Pequena história da música popular: da modinha ao tropicalismo. 5a. ed., Art Editora, S.P., 1986 _______________. Os sons que vêm da rua. S.P., Ed. Tinhorão, 1976 VASCONCELOS,A.Raízes da Música Popular Brasileira.R.J., Rio Fundo, 1991 _________________
et
alii.Brasil
Musical:
Viagem
pelos
Sons
e
Ritmos
Populares.R.J., Art Bureau Representações e Edições de Arte, 1988 WISSENBACH,M.C.Cortez. "Da Escravidão à Liberdade: Dimensões de uma Privacidade Possível". IN: História da Vida Privada.V.3 SEVCENKO,N.(org.).S.P., Cia. das Letras, 1998 Texto integrante dos Anais do XVII Encontro Regional de História – O lugar da História. ANPUH/SPUNICAMP. Campinas, 6 a 10 de setembro de 2004. Cd-rom.
INTRODUÇÃO A história do município de Ourinhos (ainda muito pouco explorada) está intimamente relacionada com o café e a estrada de ferro. A primeira referencia que se tem ao seu nome vem de um velho mapa de 1908 que situa a cidade na fronteira do Paraná com o estado de São Paulo, onde hoje é a cidade de Jacarezinho. “Editado pela seção cartográfica do Estabelecimento Gráphico Weiszflog Irmãos, de São Paulo, foi incluído como o Mapa da Viação Férrea de São Paulo mostrando a zona tributária da Sorocabana Railway Company no relatório da ferrovia. O mapa ainda não registra a existência de Ourinhos. Existe apenas o pontilhado vermelho indicando o trecho da estrada de ferro em construção entre Ipauçu e Salto Grande.”1 O nome da cidade (ainda motivo para muitas polemicas) teria sido inicialmente Nova Alcântara e também era o nome de um riacho que desembocava no ribeirão da Fartura, afluente do Paranapanema. Segundo Jefferson Del Rios, o município quase chegou a chamar-se Costina, em homenagem ao fazendeiro e político Antônio José da Costa Júnior que possuía uma fazenda que se chamava Ourinhos, que atravessava o Paranapanema e terminava num local conhecido como Água do Jacu, hoje um bairro rural ourinhense. Com a criação em 1904 do município de Jacarezinho (que incorporou a Ourinho paranaense) a Ourinhos paulista só foi oficializada quando os trilhos da Sorocabana chegaram à região. O nome teria sido herdado por tradição oral. A história inicial de Ourinhos também está estreitamente vinculada ao nome de um coronel, o Sr. Jacintho Ferreira e Sá, que fora comerciante em Santa Cruz do Rio Pardo e que por conta de suas viagens para transportar as mercadorias que abasteciam a Casa três Irmãos, propriedade da família, acabou fazendo contato com pessoas influentes na política estadual, como o Sr. Ataliba Leonel, que comandava a região da Sorocabana e João Baptista de Mello Peixoto, que liderava em Chavantes e imediações, o que incluía Ourinhos. Com a compra de um grande lote de terras na
1
RIOS, Jefferson Del. Ourinhos: Memórias de Uma Cidade Paulista. Prefeitura Municipal de Ourinhos,
1991. P. 15
Texto integrante dos Anais do XVII Encontro Regional de História – O lugar da História. ANPUH/SPUNICAMP. Campinas, 6 a 10 de setembro de 2004. Cd-rom.
2 região, Jacinto Sá, através de suas ligações políticas “conseguiu que a Sorocabana criasse uma estação dentro de suas terras”. 2 Assim que adquiriu as terras, em 1908, começou a loteá-las, dando já à cidade um pouco da feição urbanística atual (com avenidas e ruas largas de traçado retilíneo). Ourinhos nasce com perspectivas promissoras, pois além das terras da região serem muito propícias ao cultivo do café, a cidade ou a ter ligação com a capital do estado por meio da ferrovia. Sua posição geográfica (ao fazer fronteira com o norte do Paraná) também atraiu inúmeras famílias de imigrantes que vieram para a região buscando uma vida melhor ou aquelas que inicialmente planejavam chegar até o Paraná, e por algum motivo acabaram se fixando na cidade. O município que em 1917 (ano de sua autonomia em relação a Salto Grande) possuía uma população em torno de 10.000 habitantes, hoje conta quase 100.000. É ainda uma região importante para a agricultura do estado, só que ao invés do café é a cana-de-açúcar que traz hoje à região importantes dividendos. Ainda se ouve o apito do trem tocar incessantemente, fazendo importante ligação entre as fronteiras do norte do Paraná e São Paulo. Apesar de sua relevância na região do Vale do Paranapanema, sua história ainda está por ser escrita. Fizemos um amplo levantamento do material que trata do assunto e o resultado não foi muito animador. Na verdade, apenas um livro foi produzido com o intuito de relatar a história da cidade. Jefferson Del Rios fez um bom trabalho, levantou fontes e documentos, teses e jornais além de redigir alguns depoimentos orais. No entanto, há muito ainda a contar e a analisar e nosso intuito aqui é principalmente dar ênfase ao aspecto sociocultural e urbanístico da história da cidade, buscando nos jornais, arquivos da Rádio Clube de Ourinhos e do museu da cidade e através de depoimentos orais, o resgate histórico dos bailes, das bandas, dos músicos, dos espaços de lazer públicos e privados, dos bares, do rádio, do cinema e dos costumes. Enfim, pretendemos narrar e analisar o cotidiano desta cidade durante as décadas de 20 a 50 do século XX e sua conexão com a história nacional, ou melhor, transnacional, já que a presença de imigrantes foi de fundamental importância para o desenvolvimento econômico e cultural do município e da região. PROCEDIMENTOS TEÓRICOS E METODOLÓGICOS Nosso trabalho visa trabalhar no âmbito da história regional e da cidade. A história urbana ou por uma renovação no início do século XX até a década de quarenta, proveniente essencialmente de especialidades não históricas: “a 2
Ibid., op., cit., p. 19
Texto integrante dos Anais do XVII Encontro Regional de História – O lugar da História. ANPUH/SPUNICAMP. Campinas, 6 a 10 de setembro de 2004. Cd-rom.
3 sociologia, em primeiro lugar, depois a geografia e o urbanismo. Sociólogos e juristas deram à história das cidades modelos que nunca foram esquecidos. Com M. Halbwachs estudam a relação entre a expansão urbana e o preço dos terrenos a partir de 1907; com M. Leroy, põe em valor o sistema das leis urbanas a partir de 1927. Mais ainda: a escola geográfica de Vidal de La Blache, com Lbanchazrd, Arbos e Demangeon, criaram um método monográfico e genético para o estudo do espaço citadino. Tendo continuado até os nossos dias, as interrogações dos geógrafos legamnos um sistema de análise, um jogo de conceitos (a rede, a função) de que a história urbana se beneficiou largamente. Também aos urbanistas, a Lavedan, a Geddes, a Giedion, deve ela a preocupação com uma história das formas relacionadas com as alterações globais da sociedade. O complexo constituído pela cidade organiza-se conforme os imperativos dos níveis técnicos, o impacto das séries temporais diferentes, o jogo dos elementos sociais, econômicos e culturais, que estruturam tanto o continente como o conteúdo. E, sobretudo, o espaço urbano deixa de ser considerado por referencia a um modelo ideal – muitas vezes lamentado e, portanto, objeto de juízos de valor – mas a a sê-lo de acordo com critérios específicos de coerência, com redes de costumes, com relações estabelecidas entre os diferentes níveis de totalidade urbana. O contributo verdadeiramente original dos historiadores desta época foi o de terem valorizado o papel das estruturas econômicas e sociais. É este o sentido da história urbana, de Henri Pirenne a Gaston Martin, de Georges Lefebvre a Henri Sée “. 3 Atualmente, a cidade moderna “torna-se o campo fechado das contradições entre um espaço globalmente uniformizado e as fragmentações resultantes das relações de produção. A cidade expande-se e os planificadores de todas as ideologias correm atrás dela”.4 O historiador pode propor através da análise deste espaço (a cidade) uma visão sociocultural, apresentando-a como um complexo social, e ponto importante de encontro entre os indivíduos e a comunidade, o local onde se desenvolvem interações entre condições materiais e fatores culturais, entre normas e comportamentos. A cidade contém vários modelos sob o ponto de vista demográfico5(que variam em geral, conforme as classes sociais), sobre as dependências culturais e religiosas, sobre o papel das migrações, a constituição e sociabilidade das famílias. 3
LE GOFF, Jacques(org.) A Nova História. Livraria Almedina, Coimbra, Portugal, 1978pp. 90-1
4
Ibid., op., cit.l, p. 91
5
“O método dos demógrafos urbanos põe em evidencia a influencia do meio, testada de perto pelo estudo
das migrações, pela reconstituição das famílias, pela análise da sociabilidade e dos meios familiares.”( Ibid., op., cit., p. 92)
Texto integrante dos Anais do XVII Encontro Regional de História – O lugar da História. ANPUH/SPUNICAMP. Campinas, 6 a 10 de setembro de 2004. Cd-rom.
4 Dentre algumas vertentes da história urbana, optamos por aquela que vê na urbanização um fenômeno social: “as percepções diferenciais da cidade, estudadas através das alianças e dos conflitos, tanto nas explosões limitadas dos motins como nos gestos plurisseculares descritos pelos itinerários tradicionais da procissão e da festa. Neste caso, há que interrogar as maneiras de encarar o espaço, os outros e a si próprio. Há que valorizar os fenômenos de solidariedade, de fidelidade e de luta entre os grupos e as classes. A análise pode reter as categorias sociais, as relações entre os grupos ou os fenômenos de circulação no interior de uma mesma classe. Pode insistir mais na intervenção quanto à elaboração dos espaços (...) pode reter as manifestações da cultura material, analisada segundo uma melhor compreensão das transformações a longo termo dos comportamentos e das atitudes mentais. Tem que ter em conta todas as manifestações espaciais dos gestos de solidariedade ou de oposição e, conseqüentemente, reencontrar percursos. O objetivo prioritário é o de fazer o inventário diferenciado dos modelos culturais, desde representações mentais até aos atos da prática”. 6 No âmbito da História Regional, é importante ressaltar que a criação do município de Ourinhos, sua emancipação de fato, foi confirmada em 21 de março de 1919, contemporâneo ao movimento que deu origem à Semana de Arte Moderna, “época que começam a surgir os estereótipos sobre os habitantes das várias regiões do País; assim, o carioca a a ser caracterizado pelo seu jeito boêmio e malandro, em contraposição ao paulista, que é disciplinado e trabalhador, e ao mineiro, moderado e austero. Por trás dessas construções estava a tentativa de se determinar qual região iria comandar a nação”. 7 Não é por acaso, que Ourinhos ficou conhecida como uma cidade de imigrantes e aventureiros, pois a imagem que se “vendia” da região ainda na década de dez era a de que seria o futuro da cafeicultura. Acreditando nisso, Barbosa Ferraz, proprietário nos arredores de Ribeirão Preto comprou “uma enorme gleba de terras entre Ourinhos e Cambará e plantou, de saída, um cafezal de um milhão de pés. Para garantir o escoamento da produção através da Sorocabana, (...) Barbosa, os filhos e outros fazendeiros da região (...) associaram-se para a construção da estrada de ferro ligando suas terras a Ourinhos. Fundaram, assim, a Estrada de Ferro Noroeste do Paraná, nome mais tarde alterado para Companhia Ferroviária São Paulo-Paraná, dando início, em 1923, à construção do trecho entre Cambará e Ourinhos (...)”. 8 Com 6
Ibid., op., cit., p. 93
7
PINTO, Maria Inez Machado Borges. “Urbes industrializada: o modernismo e a paulicéia como ícone da
brasilidade”. IN: Revista Brasileira de História, vol. 21, no. 42, dezembro de 2001. Pp. 436-437 8
RIOS, Jefferson Del. Op., cit., p. 53
Texto integrante dos Anais do XVII Encontro Regional de História – O lugar da História. ANPUH/SPUNICAMP. Campinas, 6 a 10 de setembro de 2004. Cd-rom.
5 um discurso extremamente otimista sobre o futuro da região, a diretoria da estrada de ferro publica em 1924 no jornal O Estado de S. Paulo um longo anúncio que conseguiria convencer os ingleses a investirem seu capital na região, fundando no mesmo ano a Brazil Plantations Syndicate Ltda. e no ano seguinte, organizando uma subsidiária brasileira do empreendimento com o nome de Companhia de Terras do Norte do Paraná. “O entusiasmo pelo empreendimento estava nas solenidades e nos jornais. Cada trecho novo da ferrovia era festejado com a celebração de missas, discursos e banquetes”.9 O sucesso de tal projeto acabou originando a cidade de Londrina (uma homenagem a Londres) e a outras cidades nas proximidades. Até os príncipes ingleses se tornaram acionistas da Brazil Plantation - fundada por um pequeno grupo de nobres, financistas e generais ingleses-e acabaram visitando a região em 1931. O discurso otimista da imprensa local, entretanto, não se coaduna com alguns relatos de antigos moradores da cidade, como o da Sra. Maria Aurora Gomes de Leão que descreve que na cidade nos anos 20 “só havia taperas de tábua (...) podia-se contar nos dedos das mãos as casas de tijolos (...)”10, ou o do Sr. Leônidas de Oliveira ( através do depoimento de sua sogra: Dona Hemínia Sandano), que conta o sofrimento pela falta de água, e da vinda de desordeiros , vagabundos e criminosos mandados pela Sorocabana em seus trens que vinham repletos de desocupados “catados em São Paulo pela política[sic], a fim de selecionar entre eles alguém que se prestasse para o serviço de linha.”11 Mas, apesar de todas as dificuldades, famílias de diversas origens vieram para a região com o sonho de se tornarem proprietários de boas terras para plantio, ou de se transformarem em empresários do comércio local. É o caso dos Gurtovenko e dos Chuminski, provenientes da região da Bessarábia; do fotógrafo alemão Frederico Hahn; dos sérvios Mladen e Janosi; dos japoneses Misato; dos espanhóis Matachana; dos italianos Nicolosi; para citar alguns exemplos. A memória deste ado é narrada nos jornais do período como A Cidade de Ourinhos, que circulou pela primeira vez em 1926 e A Voz do Povo que surge no ano seguinte. É retratada nas inúmeras fotos guardadas pelas famílias mais antigas que relatam aqueles tempos com certa dose de saudosismo. Os nomes e os fatos históricos mais relevantes foram “eternizados” nos nomes de ruas, praças e avenidas. “Nos espaços brutalmente iluminados por uma razão estranha, os nomes próprios cavam reservas de significações escondidas e familiares. Eles ‘fazem sentido’: noutras palavras, impulsionam movimentos, à maneira de 9
Ibid., op., cit., p. 57
10
Ibid., op., cit., p. 129
11
Ibid., op., cit., p. 135
Texto integrante dos Anais do XVII Encontro Regional de História – O lugar da História. ANPUH/SPUNICAMP. Campinas, 6 a 10 de setembro de 2004. Cd-rom.
6 vocações e chamados que dirigem ou alteram o itinerário dando-lhe sentidos (ou direções) até então imprevisíveis. Esses nomes criam um não-lugar nos lugares: mudam-nos em agens”.12 Os relatos que compõem esta história que narra os lugares vividos são como “presenças de ausências. O que se mostra designa aquilo que não é mais: ‘aqui vocês vêem, aqui havia...’, mas isto não se vê mais. Os demonstrativos dizem do visível suas invisíveis identidades: constitui a própria definição do lugar, com efeito, ser esta série de deslocamentos e de efeitos entre os estratos partilhados que o compõem e jogar com essas espessuras em movimento (...) Os lugares são histórias fragmentárias e isoladas em si, dos ados roubados à legibilidade por outro, tempos empilhados que podem se desdobrar, mas que estão ali antes como histórias à espera e permanecem no estado de quebra-cabeças, enigmas, enfim simbolizações enquistadas na dor ou no prazer do corpo”.13 É essa história que queremos recompor e recontar. Histórias múltiplas e fragmentárias, que nos remetem a um espaço e tempo distantes de nós, mas que tem como conexão um ponto de chegada, ou de partida: a comunidade que se consolidou com o nome de Ourinhos. BIBLIOGRAFIA REGIONAL BARNABE, Marcos Fagundes. A Organização Espacial do Território e o Projeto da Cidade : o Caso da Companhia de Terras do Norte do Paraná.Dissertação de Mestrado. USP/Arquitetura/São Carlos.01/04/1990. CLEPS Jr, João. O Pontal do Paranapanema Paulista: a Incorporação Regional da Periferia do Café. Dissertação de Mestrado. UNESP/Rio Claro/Geografia. 01/09/1990. POSSAS, Maria Lídia. Mulheres, Trens e Trilhos. Tese de Doutorado, FFLCH/USP RIOS, Jefferson Del. Ourinhos: Memórias de Uma Cidade paulista. Prefeitura Municipal de Ourinhos, 1991. BIBLIOGRAFIA GERAL ANDRADE, Mário de. Pequena História da Música. Belo Horizonte, Ed. Itatiaia, 1987. _________________. Dicionário musical brasileiro.S.P. EDUSP,1989 BAKHTIN, M.A Cultura Popular na Idade Média e no Renascimento o Contexto de François Rabelais.2ª ed., S.P. , Hucitec, 1993 BOSI, Ecléa. Memória e Sociedade: Lembrança de Velhos. Cia. Das Letras, S.P., 2003 BOURDIEU, Pierre. Economia das Trocas Simbólicas. S.P., Perspectiva, 1987.
12
CERTEAU, M. A Invenção do Cotidiano: Artes de Fazer. 2ª ed., R.J. : Vozes, 1994. p. 184
13
Ibid., op., cit., p. 189
Texto integrante dos Anais do XVII Encontro Regional de História – O lugar da História. ANPUH/SPUNICAMP. Campinas, 6 a 10 de setembro de 2004. Cd-rom.
7 BURKE,P. Cultura popular na Idade Moderna.2ª ed., S.P., Cia. Das Letras, 1995 CANCLINI, Nestor Garcia.Culturas Híbridas.3ª ed. S.P., EDUSP, 2000 CERTEAU,M.A invenção do cotidiano.2ª ed., R.J., Vozes, 1996 CHARTIER, Roger. “Cultura Popular: Retorno a um Conceito Historiográfico”. IN: Manuscrits.Gener, no. 12, 1994. CONTIER, a. a. Brasil Novo; Música, Nação e Modernidade: os anos 20 e 30. Dissertação de Livre-Docência , FFLCH, USP, 1988 DAVIS, Natalie Zemon. Culturas do Povo: Sociedade e Cultura no Início da França Moderna.R.J., Paz e Terra, 1990 ECO, Humberto. Apocalípticos e Integrados.S.P., Perspectiva, 1976 Enciclopédia da Música Brasileira: erudita, folclórica e popular. S.P., Art Editora, 1977 GEERTZ, Clifford. Interpretação das Culturas. R.J., Zahar, 1978. HELLER, Agnes. O Cotidiano e a História. 6ª ed., S.P.: Paz e Terra, 2000 HOBSBAWN & RANGER, Terence. A Invenção das Tradições.2ª ed., S.P., Paz e Terra, 1997 HUIZINGA, Johan. Homo Ludens.S.P., Perspectiva, 1999 HUNT, Lynn. A Nova História Cultural. S.P.: Martins Fontes, 2001 LEGOFF, Jacques (org). A Nova História. Coimbra, Portugal: Livraria Almedina, 1978 MORAES,José G.V. de.Sonoridades Paulistanas: A música Popular na Cidade de São Paulo( Final do século XIX-Início do século XX). FUNARTE/Ed. Bienal/R.J./S.P., 1997 _______________.Metrópole em Sinfonia: História, Cultura e Música Popular em São Paulo nos Anos 30. Dissertação de Doutorado, FFLCH,USP, 1997 NOSSO SÉCULO( BRASIL)Vls. 1 a 7( 1900-1960), S.P., Abril Cultural, 1985 NOVAES, Adauto(org.) “Modernismo e Brasilidade. Música, Utopia e Tradição.”. IN: Tempo e História.S.P., Cia. Das Letras e Sec. Municipal de Cultura, 1992. OLIVEIRA, Lúcia Lippi. “As Raízes da Ordem: os Intelectuais, a Cultura e o Estado”. IN: Seminário Internacional: a Revolução de 30. Brasília, UnB, 1983. ____________________. “As Festas que a República manda guardar”. Estudos Históricos.R.J., 2(4): 182-89, 1989. ORTIZ, Renato. A Moderna Tradição Brasileira: cultura brasileira e indústria cultural. S.P., Brasiliense, 1988 _________________. Cultura Brasileira e Identidade Nacional.S.P., Brasiliense, 1985 PINTO, Maria Inez Machado Borges. “Urbes industrializada: o modernismo e a paulicéia como ícone da brasilidade”. IN: Revista Brasileira de História, vol. 21, no. 42, dezembro de 2001. pp. 435-455 ______________________________. Cotidiano e Sobrevivência. S.P., EDUSP
Texto integrante dos Anais do XVII Encontro Regional de História – O lugar da História. ANPUH/SPUNICAMP. Campinas, 6 a 10 de setembro de 2004. Cd-rom.
8 ______________________________. Encantos e Dissonâncias da Modernidade: Urbanização, Cinema e Literatura em São Paulo ( 1920-1930). Tese de LivreDocência, FFLCH/USP, 2002 SAID,E.W.Cultura e Imperialismo.S.P., Cia. Das Letras, 1995 SALIBA, Elias T. " A Dimensão Cômica da Vida Privada na República" IN: História da Vida Privada no Brasil.V.3. SEVCENKO, N. (org.),S.P., Cia. das Letras, 1998 SEVCENKO, N. Literatura como missão: tensões sociais e criação cultural na Primeira República. 3a. ed., S.P., Ed. Brasiliense, 1989 _____________.Orfeu extático na metrópole: São Paulo, sociedade e cultura nos frementes anos 20. S.P., Cia. das Letras, 1992 _____________."O Prelúdio republicano, astúcias da ordem e ilusões do progresso". IN: História da Vida Privada no Brasil. V.3 SEVCENKO,N..(org.), S.P., Cia. das Letras, 1998 ____________." A Capital Irradiante: Técnica, Ritmos e Ritos do Rio". IN: História da Vida Privada no Brasil. V.3.SEVCENKO, N.(org.), S.P., Cia. das Letras, 1998 SIEGMEISTER, Elie. A Música e a Sociedade. Biblioteca Cosmos, no. 96, Lisboa, Ed. Cosmos, 1945. SQUEFF, E. & WISNIK, J.M. O nacional e o Popular na Cultura Brasileira((Música).2ª ed., S.P., Ed. Brasiliense, 1983 SCHWARZ, R.Que horas são? Ensaios , S.P., Cia. das Letras, 1987 SCHWARTZMAN, S.& BOMENY, H.M.B. & COSTA, V.M.R. Tempos de Capanema. R.J. Paz e Terra, 1984 TATIT, Luiz.O cancionista: composição de canções no Brasil.Tese de doutoramento, FFLCH, USP, 1989 THOMPSON, E.P. Costumes em Comum: Estudos sobre a Cultura Popular Tradicional. S.P., Ci. Das Letras, 1998 TINHORÃO, J.R.História social da Música Popular Brasileira. Lisboa, Editorial Caminho, 1990 _______________. Pequena história da música popular: da modinha ao tropicalismo. 5a. ed., Art Editora, S.P., 1986 _______________. Os sons que vêm da rua. S.P., Ed. Tinhorão, 1976 VASCONCELOS,A.Raízes da Música Popular Brasileira.R.J., Rio Fundo, 1991 _________________
et
alii.Brasil
Musical:
Viagem
pelos
Sons
e
Ritmos
Populares.R.J., Art Bureau Representações e Edições de Arte, 1988 WISSENBACH,M.C.Cortez. "Da Escravidão à Liberdade: Dimensões de uma Privacidade Possível". IN: História da Vida Privada.V.3 SEVCENKO,N.(org.).S.P., Cia. das Letras, 1998 Texto integrante dos Anais do XVII Encontro Regional de História – O lugar da História. ANPUH/SPUNICAMP. Campinas, 6 a 10 de setembro de 2004. Cd-rom.